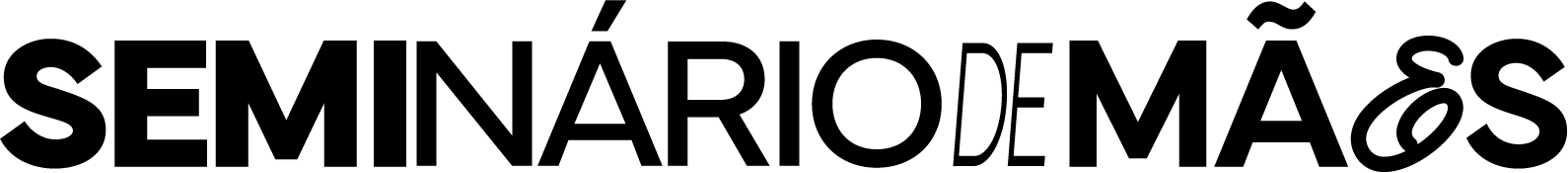A construção da identidade materna nas relações interraciais.
Não nasci mãe, nasci filha e até que tivesse minha própria criança, a maternagem era apenas uma fantasia travestida de “maior sonho da vida”. As crianças da minha imaginação eram sempre muito parecidas comigo e, por tanto, pretas. Jamais poderia pensar em filhos que os olhos do mundo pudessem deslegitimar.
O amor me pregou uma peça colorida quando ao casar-me com um homem branco esse filho imaginário começou a ser redesenhado, pintado de múltiplas cores, todas igualmente adoráveis para mim. A miscigenação era fato, portanto não era questão, não para nós dois.
Mesmo assim, receber um recém nascido diferente de mim foi impactante e provocou debates internos jamais cogitados, embora o amor tenha sido instantâneo, talvez a identificação levasse algum tempo. Eu estava pronta pra lutar as batalhas da maternidade de um menino preto, pardo (e elas não são fáceis), mas não estava preparada para a pergunta que me perseguiu por alguns meses: quem é a mãe dele?
Casados havia 2 anos e meio, vivemos uma ou outra intercorrência racial na nossa trajetória amorosa, mas nunca conversamos sobre racismo até que ele se apresentou evidente diante de nossos olhos no corpinho de uma garota de cinco anos dentro de um shopping. Depois de muito brincar com o bebê no meu colo, sem me dirigir sequer uma palavra, a pequena de longos cabelos claros voltou-se para meu marido que escolhia sapatos e perguntou pela mãe da criança. Apenas a primeira de muitas vezes em que eu não fui percebida como possível genitora do meu próprio bebê.
O nascimento de cada filho demarcou de forma clara as nossas diferenças como casal interracial e me colocou em posição defensiva diante da sociedade. Nascia a mãe. Mas ela nasceu medrosa e cheia de dúvidas. Eu não gostaria de explicar a uma, duas ou três pessoas que era mãe de meus próprios filhos e até mostrar fotos do pai no telefone para “comprovar” nosso parentesco, mas o fiz algumas vezes imaginando que era comum o estranhamento das pessoas. Mas não é.
Não podemos naturalizar o preconceito criando desculpas para quem não quer se desculpar e imaginando que ainda hoje as pessoas não estejam dispostas a compreender as implicações da miscigenação num país como o Brasil, que até por sua formação histórica é extremamente plural étnica e culturalmente.
Assim me dei conta da necessidade de me posicionar como mãe da minha criança aparentemente branca e transformar minha perspectiva diante do mundo preconceituoso em que criaria meus filhos. Eu passei a me reconhecer como protagonista de uma história que certamente teria altos e baixos.
Mais tarde quando nossa sobrinha veio morar conosco, tendo idade muito próxima do nosso caçula, inúmeras vezes os dois foram confundidos com gêmeos quando saímos. No entanto, era comum que ela fosse vista como a “criança sem sorte”, “infelizmente mais parecida com a mãe”. Comentários sobre nosso cabelo em comparação com o dos garotos, por exemplo, eram rotina e incrivelmente, aos olhos da sociedade, eu era mais mãe dela do que dos meninos que nasceram de mim.
Nunca desejei viver num eterno estado de alerta, tendo que impedir as crianças de serem constrangidas, e portanto a minha consciência racial precisou ser fortalecida, para que eu fosse capaz de mergulhar nessa maternidade que causava estranhamento aos outros mas que era muito minha.
Lidar com esses questionamentos de um mundo descrente no amor, levantou para nós como casal a importância da pauta antiracista não só na nossa casa e não só nos lares e famílias pretas, mas em todas as famílias, pois embora me ame profundamente, meu marido não era capaz de vivenciar aquela situação com a mesma preocupação que eu, por que não havia sido educado para refletir sobre isso.
Assim como a pequena menina do shopping que não imaginava uma mãe preta para o bebê branco, assim como todas as pessoas que lamentaram a pouca sorte da suposta “gêmea diferente”, inúmeras famílias ignoram as causas raciais simplesmente por não terem experimentado essa dor ou a terem ignorado por mais tempo do que podem lembrar.
Enquanto olharmos para uma foto de família e não pudermos experimentar o amor nela, prisioneiros apenas da paleta de cores que ela apresenta, não estaremos prontos para criar meninos e meninas antirracista, capazes de se identificar como brancos ou pretos não só pelo que aparentam, mas também e principalmente baseados em sua herança racial que pode ser mista.
Uma sociedade que vê as relações interraciais com naturalidade e bons olhos, prepara suas crianças para conhecer pessoas plurais e diversas, empodera e organiza a construção da identidade de meninos e meninas para que cresçam respeitando famílias que não correspondem ao padrão esperado. Assim, mulheres em relações inter-raciais, como a minha, terão maior possibilidade de reconhecer-se em seus papéis sociais e impor sua presença em todos os espaços.
Como psicóloga e autora de livros para mães, entendo que todas nós precisamos nos mover para o autoconhecimento a fim de estabelecer relações saudáveis com nossas crianças e o mundo que nos cerca. Toda mulher merece a oportunidade de construir uma identidade materna forte o suficiente para proteger-se do medo de não ser reconhecida como mãe por quem mais importa: seus próprios filhos.
Leticia Junqueiro, psicóloga e orientadora parental.
Entusiasta da Saúde Mental Materna e mãe de 04 filhos.
Quatro livros publicados para o público materno.
Colunista nas revistas D’Elas e EMBAIXADORA do Seminário de Mães.
ADAPTADO DO TEXTO ESCRITO POR LETICIA JUNQUEIRO PARA: 2o edição da revista digital d’Elas.